

A perua Rural: montagem iniciada em 1957, substituída em 1960 pela
de frente mais larga (embaixo), desenhada por Brook Stevens nos EUA |
|
|
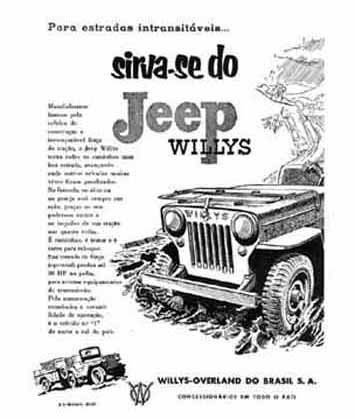
Anúncios de diferentes épocas
refletiam a mesma proposta: o Jeep era a solução para um Brasil ainda
com parte ínfima de vias pavimentadas

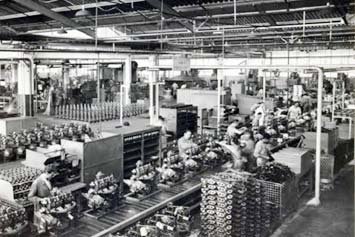
Acreditava-se que o clima
brasileiro não permitiria fundir motores, mas a Willys fez sua fábrica
para o seis-cilindros do Jeep e, depois, do Aero |
|
O
método era o mesmo: caixotes contendo os Jeeps semimontados, despachados
aos agentes, que em suas cidades faziam a montagem e, com o passar do
tempo, agregavam componentes nacionais, tomando o caminho comum de
vendê-los para que fossem os principais vetores de autodivulgação de
capacidades e solução para deslocamentos.
A operação em países de baixa renda e mínima motorização, como o Brasil,
era vista com interesse, permitindo ser replicada na França pela
Hotchkiss, no Japão pela Mitsubishi, na Índia pela Mahindra... e foi
enzimatizada quando o gerente da Willys-Overland Export Co., sediada no
Rio de Janeiro, apareceu em Willow Run, a grande fábrica Willys,
portando dossiê preparado, curiosamente, pelo gerente da Chrysler no
Brasil.
Nele o concorrente mostrava: o país seria tremendo mercado para veículos
hábeis e baratos como o Jeep, calçado pela inexistência de malha de
transporte, integração, frota antiga, variada e sem reposição, exceto a
fornecida por pequena e nascente indústria de autopeças e, sobretudo,
carente de veículos capazes para andar nas cidades e abrir seus próprios
caminhos, condições justificativas de uma operação industrial.
Num cenário, há que se lembrar, espelhando o pânico nas contas da
balança comercial, pela qual o Brasil gastara todo o saldo formado pela
economia involuntária das compras não realizadas no período da guerra,
como também fez esvair a indenização por ter participado do esforço
bélico no lado vencedor.
O país era descompromissado com estradas e vias de contato. As capitais
litorâneas eram ligadas apenas por mar, o arquipélago sólido. Assim, não
apenas os Jeeps eram mais que as ferramentas adequadas e necessárias,
quanto seu envio semimontado, em caixotes, para os representantes
regionais era feito por cabotagem ou ferrovia. Seriam os precursores das
vias de ligação rodoviária.
Na verdade toda a estrutura de sua argumentação era baseada em uso
múltiplo. O Jeep era apresentado como carro de passageiros para
deslocamento de gente; pequeno caminhão, com a supressão do banco
traseiro, oferecendo capacidade de carga de 250 kg; trator, capaz de
puxar implementos agrícolas, como arados; unidade móvel de força, apto a
tocar implementos, como moinhos, serras, compressores... através de uma
polia de força acoplada à caixa de marchas e fixada à barra posterior de
fechamento do chassi.
Surpresa pelo insólito, a Willys topou sob condição — se o investimento
fosse bancado localmente, sem risco para a matriz.
O advogado da Gastal levou a proposta aos subdistribuidores, aderindo
com entusiasmo em torno de uma certa Willys-Overland Motores do Brasil
S.A., agitando bandeira tão atrativa quanto aparentemente impossível, o
fazer veículos. A operação representava enorme salto de status: em vez
de distribuidores, sócios do fabricante — e com voz ativa, situação
totalmente diferente da experimentada por revendedores de outras marcas,
como Ford, GM e Chrysler, em posição passiva, recebendo veículos para
vender, sem ingerência nos produtos ou alcance às esferas diretivas.
A Willys, maior cotista por cessão de direitos e know-how, ágil,
dispensou o intermediário e contratou o gerente da Chrysler para tocar
sua ideia, iniciada com a supressão da palavra Motores a 26 de abril de
1952. Capital de Cr$ 50 milhões e sede no Rio de Janeiro, à Avenida
Churchill. A atividade se manteve como antes tocada, incrementada pelo
incentivo e apoio ao desenvolvimento e fornecimento de peças e
componentes brasileiros para ampliar a nacionalização — e viabilizar uma
verdadeira indústria automobilística.
Caminho
Sorte não é
situação inesperada ou aleatória. É prever, preparar-se, agir quando o
fato surgir. No caso da Willys, nem precisou fazer muito mais. A demanda
do mercado crescia, o importador brasileiro aumentou operações, gestão
de transporte, e sua própria montagem dos Jeeps. E o governo Vargas deu
o primeiro passo para dar mobilidade ao país: obrigou a importação sem
os grupos mecânicos feitos no Brasil. O processo da nova Willys permitia
isso — enquanto de outras marcas exigiam adequações ou reduzir o
negócio. Na matriz, Ward Canaday, controlador da Willys, leu o relatório
de Hickman Price, gerente de exportações da Kaiser-Frazer; contratou-o;
mandou-o para o Brasil dinamizar negócios.
Logo após, duas condições novas mudaram o curso: decisão governamental
para, além da importação sem as peças fabricadas aqui, a exigência de
ser CKD, ou seja, com veículos totalmente desmontados. Isso separou
meninos e homens; a Kaiser-Frazer, com troca de papéis, comprou a Willys
e, logo em seguida, escriturou monumental prejuízo.

|